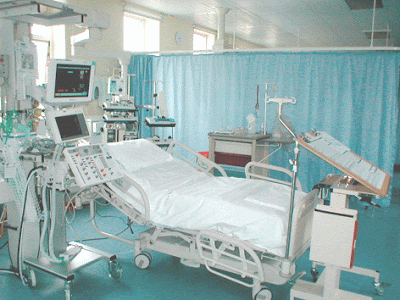HIPÓCRATES
Hipócrates seria um nome corrente, na Grécia de Péricles.
Diz Fernando Namora: “conhecem-se sete médicos de nome Hipócrates; a tradição
tê-los-á amalgamado num personagem único”. Há quem sugira que sucedeu o mesmo
com Jesus Cristo.
Sabe-se alguma coisa sobre a sua vida. Nasceu por volta
de 460 a. C., em Cós. Cós é uma ilha grega situada muito próximo da costa da
Turquia. Era cerca de dez anos mais novo do que Sócrates e foi
contemporâneo de Demócrito. Julga-se que viajou pela Grécia e pelo Próximo
Oriente. É representado de chapéu e bordão, símbolos do caminheiro.
Hipócrates era um asclepíade, isto é, um descendente de
uma família dedicada aos cuidados de saúde. Sua mãe teria sido uma parteira de
sucesso.
O mestre grego exerceu medicina na Trácia, na Tessália e
na ilha de Tasso. Era já um médico conhecido em 430 a.C., quando
se realizou a 86ª Olimpíada. Faleceu em Larissa, numa
idade avançada.
É considerado uma das figuras mais importantes da
História da Medicina. Segundo Catiglione, o seu mérito assenta em ter
demonstrado que a doença era um processo natural. Os sintomas traduziam
reações do corpo à doença e o papel principal do médico consistia em ajudar
as forças naturais do organismo no processo de recuperação.
Hipócrates separou a Medicina da Magia. As
divindades já não eram convocadas para tratar os enfermos. Nascia a profissão
de médico, o qual devia observar, refletir e aprender. No seu modo de ver,
muitas doenças eram influenciadas por fatores climáticos, dietéticos e
ambientais.
Embora o juramento hipocrático, tal como
o conhecemos hoje, ponha em realce a figura do mestre, em outros escritos,
Hipócrates menorizava a aprendizagem pelo ensino, pela transmissão da experiência
de outros, o que reforça a opinião dos historiadores que consideram ter sido o
“Juramento de Hipócrates” elaborado numa data posterior. Hipócrates escreveu
nos seus aforismos que a vida dum médico era demasiado curta para ele aprender
tudo de que necessitava para o exercício da sua profissão.
A reputação de Hipócrates deve-se às suas obras, que
constituem o Corpus Hipocraticum. O tempo terá reunido, nesta coleção de 70
escritos, contributos do próprio Hipócrates e de vários outros médicos oriundos
de épocas e de escolas diferentes. Além do famoso Juramento, dos Aforismos e da
Doença Sagrada, os textos falam das doenças agudas, da cirurgia, das fraturas,
dos instrumentos de redução, dos ferimentos da cabeça, das articulações, das
úlceras, das fístulas, das hemorroidas, dos ares, águas e lugares, das
epidemias e dos prognósticos.
Hipócrates apreciava a temperatura do corpo com a mão.
Praticava a auscultação, encostando o ouvido ao peito do doente. Descreveu o
ruído do roçar de coiro novo nas pleurisias. As obras que lhe são atribuídas
englobam um conjunto de descrições clínicas que permitem identificar doenças
como a malária, a papeira e a tuberculose. Aconselhava os médicos a serem
comedidos nas explicações e nas expectativas a transmitir aios doentes.
Hipócrates desenvolveu o conceito de “crise”.
Constituiria um ponto-chave da evolução da doença e determinaria a
recuperação ou a morte.
O médico grego não poderia enxergar muito além da sua
era. Fundamentou a sua compreensão do organismo humano na famosa teoria dos
humores (sangue, fleugma ou pituíta, bílis amarela e bílis negra). O equilíbrio
dos humores (eucrasia) determinaria o estado de saúde, enquanto o predomínio de
um ou de outro, a discrasia, seria causa de doença e de dor. Esta teoria,
retomada séculos mais tarde por Galeno, dominaria o ensino médico até ao século
XVIII.
Em questões terapêuticas, o Mestre de Cós não inovou.
Recorreu ao que existia na época para tratar os doentes: sangrias, ventosas,
cataplasmas e pensos.
Para terminar,
registo aqui algumas passagens do famoso Juramento de Hipócrates.
Aplicarei os
regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para
causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal
nem um conselho que induza a perda. Do mesmo modo não darei a nenhuma mulher
uma substância abortiva.
Conservarei imaculada
minha vida e minha arte.
Em toda a casa,
aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo o dano voluntário
e de toda a sedução sobretudo longe dos prazeres do amor, com as mulheres ou
com os homens livres ou escravizados.
Aquilo que no
exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade, eu
tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei
inteiramente secreto.
Bibliografia
Alzina, A. Hipócrates:
filosofia e mistérios em Medicina grega. Nova Acrópole (Internet).
Barradas, Joaquim. A arte de
sangrar de cirurgiões e barbeiros. Livros Horizonte, Lisboa, 1999.
Namora, F. Deuses e demónios
da Medicina. Livraria Bertrand, Amadora, 1979.
Wikipedia.